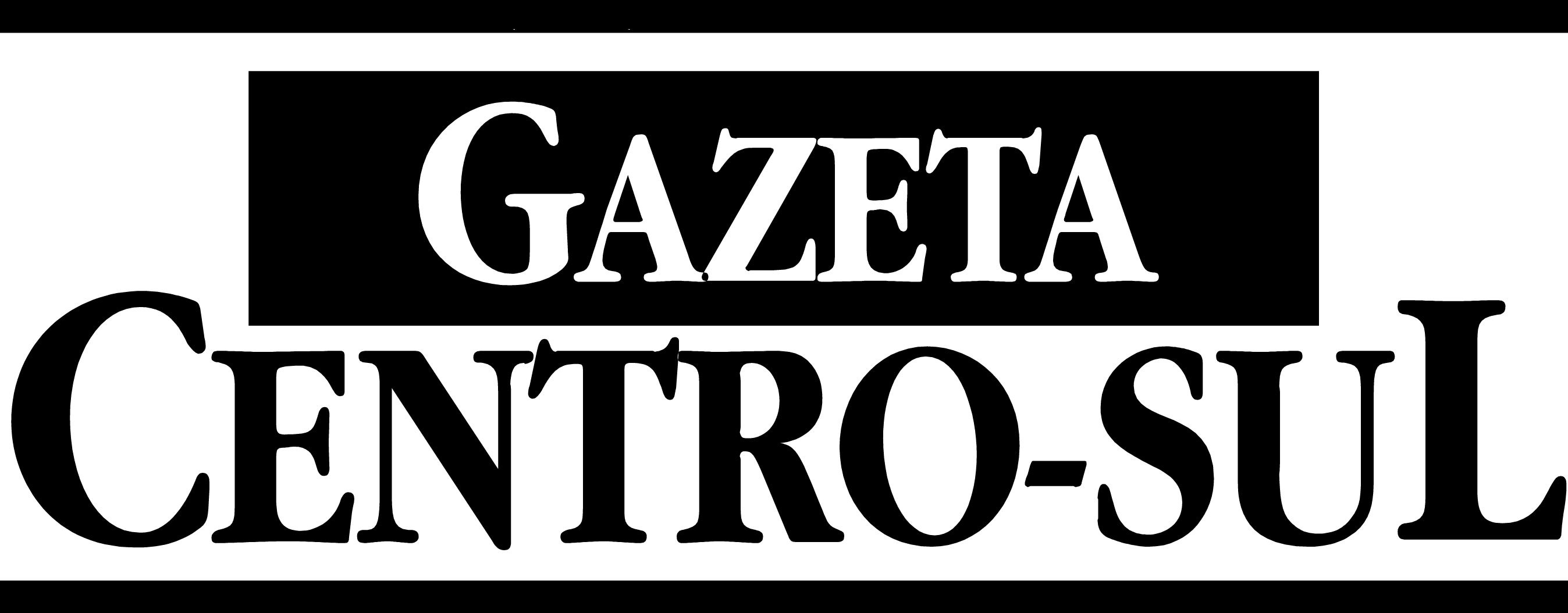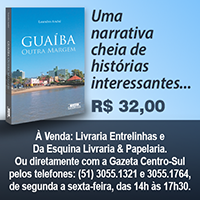A última quarta-feira foi o dia dele. Desse tal de Rock’n Roll. “Tia” Rita – a Lee – já dizia: “é um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo…”. Essa data, 13 de julho, é coisa de brasileiro. Foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento em prol das vítimas da fome na Etiópia que aconteceu nos EUA e na Inglaterra, simultaneamente, num 13 de julho de 1985. Um desejo expressado por Phil Collins de que aquele fosse considerado o “Dia Mundial do Rock” porque lá estavam artistas do peso de Queen, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2 entre outros. Lógico que, por envolver grandes artistas e egos infinitos, especialistas contestaram a escolha. Afirmam ter sido uma decisão ‘arbitrária e sem o respaldo de outros países’. Mais uma pérola para o rol da absoluta perda de tempo com bobagens!!!
Falando em rock, já escrevi nesse mesmo espaço que meu gosto musical ficou engessado na década de 80. Sim, estou ficando velho. Me dou conta disso a cada vez que ‘tento’ assistir – pela TV – grandes festivais de rock, pop e música eletrônica como Lollapalooza e Rock’n Rio, só para citar os dois maiores e que prezam por uma programação eclética, contemplando do pop mais adolescente ao heavy metal arrasa quarteirão. É lógico que eu não esperava encontrar no cardápio desses festivais, bandas como Beatles, Rolling Stones, The Who, Pink Floyd e Led Zeppelin, entre outros dinossauros. Isso seria humanamente impossível. Primeiro, porque quase todas essas bandas já não existem mais ou porque seus integrantes morreram. Segundo, porque boa parte do público que ‘consome’ essa ‘geração de lendas’ também já partiu para uma outra dimensão espiritual. Terceiro, porque os que ainda estão por aqui são impedidos pelo seu médico geriatra de sairem de casa entre seis da tarde e 10 da manhã…
Eu falo que tento assistir a essa nova safra de festivais de música porque desconheço 90% das bandas, rappers e DJ’s que neles se apresentam. Nos últimos dez anos, o entretenimento musical de massa tem feito desse “ecletismo” a sua bandeira. Existe uma segmentação por gêneros musicais para ‘atender’ todas as ‘tribos’. O que se vê nesses festivais é o crescimento de um tipo de público que não liga para rótulos ou gêneros musicais, mas que gosta de qualquer coisa que ‘bombe’ no Spotify ou no YouTube. Isso não é uma crítica ao público, mas uma constatação. Ninguém é obrigado a entender de música e todo mundo tem o direito de ir ao show que quiser. No Rock in Rio, tem fã que ‘pira’ com “Enter Sandman”, do Metallica, na mesma ‘vibe’ que ‘sai do chão’ com a “Poeira…”, da Ivete Sangalo.
Já o Lollapalooza é um evento com público mais jovem e, por isso, mais ortodoxo. No entanto, o mesmo fenômeno é perceptível. Isso é bom? Para o festival, certamente. Para a música, nem tanto. O que está ocorrendo é que cada vez mais, o público gosta daquilo que ‘curte’ e não tem o menor interesse em ouvir o resto (é o meu caso mesmo que numa faixa etária absurdamente superior). No Lollapalooza não há espaço para o desconhecido. Em nenhum gênero musical essa busca pela padronização do consumidor fica mais evidente do que na música eletrônica: há dez anos, algum gênio do showbizz teve a ideia de acabar com os subgêneros da dance music – electro, house, techno, dubstep, trance… – e chamar tudo de EDM (Electronic Dance Music), um nome que não diz nada, mas engloba tudo. Foi só exterminar os nichos que a música eletrônica se tornou um fenômeno global, com festivais que rivalizam com o pop em tamanho e faturamento. E se o Lollapalooza hoje traz uma overdose de EDM é por uma única razão: a empresa dona do festival, a Live Nation, também é dona de marcas gigantes e festivais de música eletrônica, como Cream, Insomniac e Hard.
No mundo do entretenimento de massa, nada acontece por acaso.
Daniel Andriotti
Publicado em 15/7/22